18/09/2020

Independentemente das possíveis interpretações, é impossível sair ilesa/o do filme. A direção delicadamente tece um trabalho de atuação surrealista, uma precisão na composição da estranheza das cenas e uma sensibilidade impressionante para com as questões das gerações viventes. O “awkward” millenial em paroxismo. Além disso, o filme merece ser reconhecido tanto pela sua fertilidade intelectual quanto pela eficácia estética, com a qual desestabiliza a nossa percepção. É possível duvidar da própria vigília nos minutos seguintes ao fim do longa.
Mas “Estou Pensando em Acabar com Tudo”, de Charlie Kaufman, não é um daqueles filmes que apenas torna difícil separar o que é realidade do que é sonho, que nos deixam com a pergunta: “o que realmente se passou?” No caso, o longa parece conseguir manter-se no meio. Não se alterna entre cenas totalmente absurdas nem verossímeis, de modo que ambas as qualidades parecem presentes ao mesmo tempo. O linear e o não linear se sobrepõem! É tão sensato e ao mesmo tempo absurdo que, à certa altura, a pergunta sobre o que é real deixa de se fazer importante, porque a própria ideia de “real” parece contraditória. “Não há realidade objetiva”, diz Jake. Ou seja, não parece existir uma realidade “por trás”, um fundo objetivo compartilhado igualmente por todas as personagens. E, se for tudo “um sonho”, é o sonho de quem?
Continuamente, desde o início até o fim, todas as certezas vão se dissolvendo, ao mesmo tempo que uma convicção cresce: não se trata do mundo “real” e muito menos de um mundo totalmente sonhado! O problema é que o filme nos dispara uma miríade de sugestões e possíveis pistas, nos provocando a sensação de que há um enigma a ser decifrado. Será apenas sensação?
Seguindo as pistas
Bom, se quisermos desvendar o mistério — assumindo que seja “desvendável”- é preciso encontrar uma pergunta boa, cuja resposta possa mobilizar e conectar todas as pistas. No caso, essa pergunta não é “realidade ou sonho”. Estamos no meio. Mas o que significa dizer isto?
O que entendemos sobre o sonho nos diz que todas as coisas e pessoas que aparecem nos mundos oníricos expressam as dinâmicas inconscientes de um sujeito. Que nesses mundos se manifestam ordens provisórias, análogas à ordenação dos desejos desse sujeito, que logo irão se desfazer, conforme o desejo muda. Mas e se o que chamamos de realidade não for muito diferente? E se o real for também uma ordenação do mundo influenciada pelos desejos, frustrações e ambições de um sujeito? É possível que sim, que sonho e realidade não sejam distintos em essência, mas apenas em grau de fluidez. E que estejam mais ou menos influenciados pelo sujeito. Nessa perspectiva, a arte pode ser agente de uma equalização dessas frequências, revelando a continuidade entre o sólido e o fluído.
Então não se trata de saber se é sonho ou real, mas sim, saber a partir de qual sujeito esse sonho-realidade é projetado! A nossa pergunta-chave seria: o filme expressa a perspectiva de quem? Ou: do que?

Bom, considerando que a moça não tem o privilégio de ter um nome próprio, podemos inferir que tudo se trate do mundo de Jake. E tal inferência seria apoiada por muitas pistas, além do fato do nome. Em quase todas as cenas dá pra argumentar que os elementos evidenciados são representações das frustrações dele: um garoto que é apenas diligente, sem nenhuma qualidade excepcional, que tem vergonha da mãe e ao mesmo tempo é seu devedor eterno. Um menino bobo, que não passou no teste social da masculinidade, porque é gordinho e gosta de livros. Um típico beta*, pra usar o vocabulário corrente. Assumindo ele como centro de tudo, a moça sem nome acaba apenas servindo a uma função, projeção de um ideal de mulher caridosa, que enxerga suas qualidades: inteligente, cuidadoso, dedicado. Seguindo estas pistas, a “Lu-” acaba progressivamente se reduzindo à condição de representação para os desejos desse homem. “Parece que você escreveu esse poema sobre mim”, diz ele.
Mas nem todas as pistas levam a considerar Jake como o centro de todo o filme. Algumas levam à ela. Muitas cenas parecem ser consoantes com a subjetividade dela. Afinal, porque só os seus pensamentos são vocalizados? Porque é dela a dúvida interna que dá nome ao filme? Se quisermos levar ao pé da letra o jogo do filme, em que o “real” é sempre expressão de um sujeito, devemos colocar em questão a nossa própria interpretação. Pois quem garante que, numa outra perspectiva, as mesmas pistas não poderiam nos levar a uma conclusão diferente?
Pois podem, e levam. Se quisermos considerar que o filme e todos os seus absurdos e realismos são referentes a “Lu-”, me parece que as pistas são igualmente eficientes. Uma mulher demasiadamente pensante, confusa à respeito da própria identidade, vivendo para dar provas de seu próprio valor diante de um mundo patriarcal que continuamente se apropria do seu trabalho — a cena do porão é uma pista que leva mais a ela do que a ele. E a mesma fala “Parece que você escreveu esse poema sobre mim”, dita pelo seu ficante, é ou não é um pesadelo patriarcal? Pois é a mesma pista de antes, mas levando a outra conclusão.
Algumas cenas levam a ele, outras levam a ela, outras aos dois. Então, poderíamos concluir que o longa expressa um mundo intersubjetivo, entre essas duas personagens? É possível. Contudo, não é como se, simplesmente, as cenas que representam a psiquê dela e as que representam a dele fossem totalmente distinguíveis e estivessem se alternando sem se sobrepor. Além disso, há outros elementos, que podem não se referir particularmente a essas duas pessoas.
De quem estamos falando?
Tentar ligar todas estas representações a um personagem específico não é a única possibilidade que o filme abre. Ao invés de procurar o sujeito central, podemos procurar por uma subjetividade. Um tipo social, delineado por condições e vivências compartilhadas. No caso: pessoas brancas, de classe média, que acumulam capital cultural, identificadas com ideias progressistas, dedicadas a mostrarem-se intelectualmente excepcionais, mas que no fundo sentem que todas as suas ideias não tem nenhuma originalidade; deprimidas, ansiosas, flertando com o niilismo e a morte lenta.
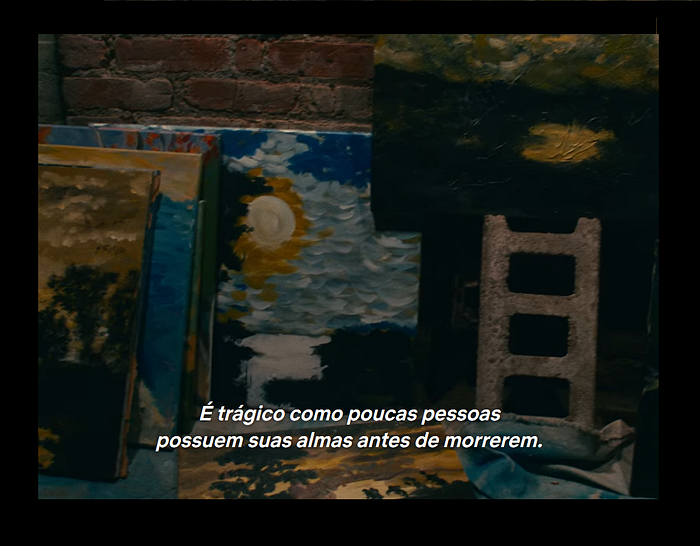
Voltando à cena do porão, que é ao mesmo tempo uma angustiante perda de identidade para ela e uma intimidade vergonhosa para ele, temos o exemplo de uma fragilidade compartilhada, típica da classe média. Esse universo aparece condensado também nas extensas e sufocantes sequências no carro, que delineiam os jogos de linguagem da intelectualidade ocidental branca. Talvez o filme não trate mesmo da perspectiva de um sujeito, mas sim dessa subjetividade branca, de classe-média, estadunidense. E progressista. Porque os temas de militância são evocados ora por um, ora por outra.
Então, quem é o sujeito do filme? Aonde assentar o centro do qual partem todas as representações? Se for só a perspectiva dele, ela é apenas uma condensação de imagens ideais. Se for só a dela, ele é uma condensação de imagens angustiantes. Se for a da subjetividade branca progressista, ambos são um pouco reais e um pouco representacionais. Talvez estejamos apenas reformulando a pergunta de “O que é real nesse filme?” para “Quem é real nesse filme?”
Consideremos o zelador. Ele pode ser uma pessoa em si, representante de uma velha geração que se viu expulsa da modernidade acelerada. Mas também pode ser a projeção do medo de Jake, ou mesmo a representação do patriarcado gerada nessa experiência infernal de “Lu-”. O filme possibilita que sejam as três, simultaneamente!
É verdade que essas interpretações diferentes não formam uma geometria perfeita. Algumas cenas pesam mais para uma do que para outra. E o fato de que Jake é o único que recebe um nome próprio no filme, pode pesar mais do que o resto. Mas é insatisfatório pensar que um filme tão provocativo, penetrante e bem recebido pelo público se encerre na perspectiva de um personagem homem. Há algo neste longa que perpassa todes nós enquanto geração.
Estes sujeitos — a mulher, Jake e o zelador — não são indivíduos puramente singulares. Tanto ela, quanto ele, quanto o zelador, são típicos. Os detalhes de cada personagem são peculiares à coletivos, e não à indivíduos. Assim, típicas, também são as situações. Tanto que é bem provável que você, leitor/a, tenha sentido identificação em alguma cena. Que o filme tenha te mobilizado por apresentar algo similar à sua própria experiência, principalmente na melancolia, na morbidez, no medo e na desilusão. Admitamos: não há nada de essencialmente melancólico ou medonho numa viagem para conhecer pai e mãe do namorado. Mas o que isso representa para nós (e aqui eu faço um recorte) pessoas de classe média, com ideais progressistas, que vem tentando, à duras penas, possibilitar relações monogâmicas saudáveis, em meio ao patriarcado? Um suco de memórias sombrias.
O pesadelo é nosso
Construindo ao longo das cenas esses sujeitos abrangentes, típicos e ao mesmo tempo verossímeis, o longa abre a possibilidade para que os objetos e os personagens sejam projeções surreais de uma subjetividade massiva, tão ampla quanto a nossa conjuntura histórica. É possível que o filme não trate apenas das emanações subjetivas de seus personagens, mas também das de todos (nós). Uma apresentação verdadeira do espírito de nosso tempo, no qual diferentes subjetividades lutam entre si, buscando meios para se expressarem.
Nesse mundo surreal mas verdadeiro, o nosso mundo, há um conflito mórbido entre perspectivas antagonizadas pela História: a mulher, o homem, o velho. Um filme, com sua possibilidade de representar sujeitos, assim, como um sonho coletivo, é um espaço em disputa por estas perspectivas. Mas neste longa tão marcante, a decisão foi a de não privilegiar nenhuma delas, para assim conseguir apresentar o espírito do tempo tal como ele “é”: anêmico, sem vida, alienado e em estado crítico. Ou, deveria dizer, o corpo do tempo? Um corpo inerte, conflituoso, que se entrega aos vermes.
Não há a pretensão de apresentar a totalidade, já que seria ridículo falar da perspectiva dos grupos sociais aos quais não se pertence. O recorte é claro: uma localidade específica dos EUA, a classe média progressista. Delimita-se o espaço subjetivo (e objetivo) para conseguir construir um pesadelo “real”. O filme torna-se então um funil que condensa esse recorte da atualidade, de modo a realçar as suas características mórbidas. O resultado é instável, monstruoso, ao mesmo tempo consistente e verossímil: uma mulher expropriada dos meios para dizer não, “namorando” um homem obsessivamente frustrado, enquanto são espiados por um zelador reduzido à invisibilidade; a neve turva todos os horizontes de transformação, enquanto a ansiedade de voltar pra casa não é acompanhada de um desejo real de voltar.
Se propondo a apresentar uma parte da realidade subjetiva de nosso tempo, uma obra não poderia se render à imagens estáveis, puras, livre de rachaduras e irregularidades. As sujeiras e os signos assignificantes, como o gelo-duplo, ou triplo, da sorveteria no meio da nevasca, a maquiagem “de velho” ostensiva, o cachorro preso em “gif”, enfim, todas estas intuições poéticas atestam a sua importância pelas sensações que nos provocam. No entanto, a direção consegue fazer aliar esse elemento mais sujo à parte “limpa”, mais clara, dos eixos homem x mulher ou juventude x velhice.
Por fim, não obstante todas essas assimetrias, irregularidades entre os objetos, e o caleidoscópio de sujeitos que se misturam, é possível, ao meu ver, lançar mão de uma ideia unificadora: o patriarcado. Uma força masculina, que expropria das mulheres os meios para gozarem das próprias obras e da própria vida, ao passo que reifica o homem à condição de centro, opera ao longo de todo o filme. Uma força que, aliás, está fraca.
O patriarcado moribundo do filme é a verdadeira condição adoecida de nosso mundo subjetivo, que afeta todas as pessoas, inclusive os homens. Jake é, inconscientemente, um centro gravitacional que puxa tudo para si. Ela, um astro à deriva, procurando por um nome para chamar de seu, e que acaba acorrentada a um destino alheio. Ambos, a intelectualidade branca tentando solucionar as relações heterossexuais. E o velho zelador observa isso tudo de fora, sabendo que ele é tudo que as/os jovens temem encontrar (no caso dela), ou se tornar (no caso dele). Todas essas perspectivas, dos personagens principais, mais as dos personagens menores, mais as de outros possíveis, encontram-se no mesmo dia nevado, na mesma ordem patriarcal, disputando a mesma matéria expressiva: um filme. E a expressão resultante extrapola todos.
É por ser vertiginosamente real e severamente absurdo, unindo sensato e insensato, que o filme faz o sonho aparecer como um elemento da vigília. Nesse mundo subjetivo, entrelaça perspectivas divergentes numa mesma sequência narrativa, dando vazão, a um só tempo, à condição da mulher e a do homem. Como efeito, acaba criando uma ilustração coletiva do patriarcado e de sua presença medonha no mais íntimo de nossas relações, nos nossos porões. Enfim, tudo isso por meio de um surrealismo sutil que, maravilhosamente, parece “mais verdadeiro que a realidade”.
Talvez seja por essa combinação de qualidades que, após assistir o filme, ficamos um pouco entorpecidas/os. A realidade de repente é mais fluida do que costumava ser.
*Beta é uma designação que nasce nos meios internautas para designar de modo vago uma pessoa (normalmente homens) “frágil”, em oposição ao Alfa.
Nenhum comentário:
Postar um comentário