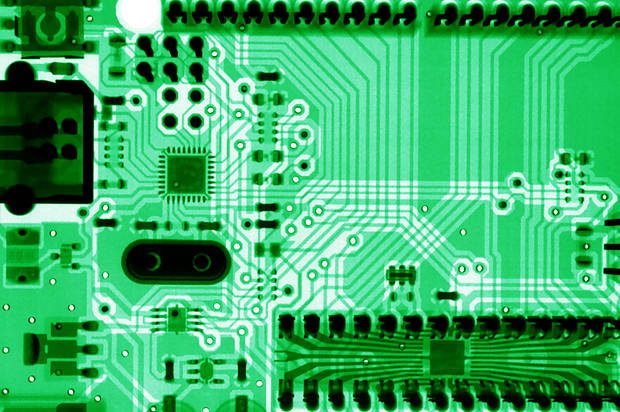Minhas primeiras memórias de escrita são da escola. Aulas de redação. De fato, não é um exemplo bonito de início, daqueles que uma criança poética se encanta com o poder de colocar palavras num papel. No meu caso, foi bem diferente disso. Meus primeiros contatos com a escrita foram carregados de sentimentos conflitantes. Muitos deles raivosos, tensos. Afinal, o que me colocou pra escrever não foi inspiração mas sim a força da pura obrigação. Era aula de redação e eu precisava passar de ano. Fora essa pressão, me faltariam motivos para me debruçar sobre a escrita. Não encontrava sentido naquilo e, na verdade, em nenhuma outra atividade escolar. Entendia essas demandas como regras de um jogo antiquado e perverso, que eu precisaria respeitar apenas pra não ser punido. Até tinha certa razão. Mas não fosse essa falta de sentido, não teria me deparado com a folha em branco. Atravessado de conflitos, em meio à vontade de gritar contra o mundo, abria-se uma possibilidade: diante de mim uma folha em branco, que eu poderia preencher com o sentido que eu bem entendesse.
Não fui um bom aluno, como se pode inferir. Esburacadas de desordem, minhas redações recebiam notas medianas. Mas em cada uma eu descobria um refúgio, uma espécie de brecha no sistema. Eu só precisava mostrar uma boa gramática, uma certa noção de desenvolvimento e um pouco de coerência – esta última, a mais difícil de conseguir. Esse mínimo de bom comportamento me daria a nota de aprovação e me livraria das punições morais. Com relutância, aceitava que parte do meu texto teria de ser concedido ao correto. Assim, me sentiria suficientemente acobertado. Era parte do jogo. Em compensação, poderia continuar materializando em texto um espírito clandestino que começava a me ganhar. E a vida foi se tornando um pouco como a Julia de “1984” define: “uma coisa muito simples. Você fica querendo se divertir e ‘eles’, ou seja, o Partido, faz de tudo para evitar que você se divirta. Você faz de tudo para infringir as regras.” Sem ser pego, completaria.
Mesmo que numa dimensão muito pessoal e até mesmo um pouco paranóica, escrever já nasceu um ato de afronta e, porque não, de política. Claro que não a política do social, que mais tarde viria a me tomar de assalto. Mas uma política do jogo, da diplomacia na relação com o adversário. Um jogo de elegância, de disfarces, feito de glórias silenciosas e vitórias sutis. Eles teriam de engolir meu texto iconoclasta, niilista, destruidor de morais, pois estava “bem escrito”, digamos assim. Nisso não havia a mesma força que no malandro, este arquétipo do marginal que se torna liso ao portar certas elegâncias, mas se tratava do mesmo tipo de combate. Poder denunciar o embuste do jogo, ao mesmo tempo que o joga. Estudar o mecanismo simbólico pelo qual a boa gramática torna legítimo qualquer conteúdo. É um lance estético, entende? Se você mostrar que sabe pilotar a linguagem, eles vão ficar impressionados. Mesmo que, no fundo, você não saiba. E nem eles. O que importa é “mostrar que sabe”.
Felizmente, quando pude me livrar da formalidade escolar e me lançar no ócio desconhecido, amadureci. Conhecendo o mundo e encontrando mundos dentro, descobri os outros sentidos da escrita. Diante do globo capitalista, confirmei: as aparências e o jogo estético são armas das mais poderosas. Por outro lado, aprendi que num mundo feito de matéria e de corpos de gente viva, o conteúdo e os efeitos concretos de um texto importam. Importam a ponto de, na ponta, matar ou morrer. E sabendo disso, você deve escolher uma posição: está com os que sempre morreram ou com os que sempre mataram? Esta lição trouxe um elemento novo pro meu texto, o elemento da luta social. Esta adição, é inegável, conflita com aquilo que até então compunha minha escrita. E até hoje é assim. Mas, para o bem ou para o mal, o elemento estético nunca deixou de ser o núcleo motriz. Mais especificamente, a questão que me impele é esta: qual o poder do belo? Quem define o belo? Nós podemos alterar isto?
O efeito material e o efeito subjetivo do texto não são coisas totalmente dissociáveis. Hoje eu estou um tanto mais consciente da relação existente entre esses dois elementos, ao ponto de poder afirmar: é delicado. Mas é aí, em direção ao delicado, que vai minha expedição. Na direção do balanço frágil entre luta social e subversão estética. Do contato com a vibração que vem do chão, o sismógrafo traduz o conflito entre o sólido e o volátil. Esse é o grafo que eu quero mimetizar.

híbrido
Mas afinal, porque escritos híbridos? Bom, esta palavra tem seu uso mais comum na arena da biologia. Diz-se do indivíduo gerado no cruzamento de espécies diferentes. E daí a linguagem derivou seu uso figurativo, pra qualificar tudo que nasce de um cruzamento heterogêneo. O interessante sobre essa palavra é que, por ser usada na biologia, indica um contexto formado por seres vivos. E o que isso traz de vantajoso? No reino do que é vivo, não faz sentido falar de contrários e nem de idênticos. Só há diferentes. A hibridição não é uma síntese entre duas coisas contrárias, e tampouco é o inverso de uma geração entre iguais. O que ela gera não homogeiniza os dois termos da relação em uma nova unidade. O híbrido manifesta um meio, um novo meio; é um terceiro que carrega qualidades do primeiro e do segundo, sem por isso sê-los.
No reino da escrita, as espécies são os gêneros textuais. Prosa, poesia, ensaio, artigo, tese, resenha, crítica, etc. E dentro delas, um punhado de subespécies. Cada gênero tem suas qualidades particulares de tamanho, tom, linguagem, interlocutor e propósito, e a combinação destes atributos resulta naquilo que o texto tem de mais concreto: sua efetivação no suporte e o efeito que dali ele terá no mundo, por meio dos/as leitores/as. Assentado esse assunto, já podemos deduzir o que seria um escrito híbrido: um escrito que não se identifica com nenhum dos gêneros textuais, mas que se encontra no entremeio dos mesmos. Na fauna textual, um híbrido exemplar é a prosa-poética. Talvez seja o mais aceito e utilizado. É a mula dos textos, poderíamos dizer. Possui a força explosiva de um cavalo – poesia – com a resistência incansável de um jegue – prosa.
Não vou inspecionar aqui cada detalhe dessa metáfora, ainda que seja interessante. (O híbrido coloca em questão a oposição entre artificialidade e natureza, questão essa que, em termos de escrita, alimenta uma bela e longa viagem. Mas isto é para um outro momento.) Meu interesse agora é contar o que penso ser a principal causa de meus textos devirem híbridos. E digo: é a qualidade subjetiva presente lá na origem, nas aulas de redação, e que reverbera até hoje. Como disse, a minha escrita nasceu em um contexto de conflito pessoal, de tensão. O mundo pequeno, estreito, delimitado pela escola e pelas relações de poder inerentes, transbordava em regras complicadas e arbitrárias. A maioria delas, não ditas. Para respeitá-las, para agir conforme, era preciso, primeiro, decifrar uma rede complexa e invisível de normas, segundo, domar os impulsos e modelar-se. Mas eu dificilmente conseguia decifrar essas normas, e mesmo quando conseguia, minha vontade era contrária ao modelo. Uma dupla dificuldade – incapacidade de compreensão das normas e também uma afronta inconsequente – foi o signo sob o qual brotou minha escrita. E essa dupla dificuldade reverbera até hoje. Eu ainda peno para adequar meu texto às exigências formais, seja porque me parecem complicadas, seja porque me parecem demasiado arbitrárias.
No entanto, com o passar dos anos, eu soube dar a devida atenção às normas, de modo a poder descobrir razões subjacentes que me provam: não é pura arbitrariedade. Objetivamente falando, na escrita as normas prescrevem a boa gramática e a adequação às formas textuais. Como norma, isso soa apenas como uma tentativa forçada de disciplinar a arte textual. Era assim que eu via. Mas o amadurecimento me proporcionou encontrar um sentido não normativo para a preocupação com a forma. A razão é que tais qualidades promovem a capacidade do texto de ser socializado; sem nenhuma preocupação formal, o texto isola-se em si mesmo.
Por mais geniais e/ou criativas que sejam as ideias de um/a escritor/a, por mais ousadas as direções que ele/a pretenda tomar em sua escrita, ainda precisa materializá-las num corpo textual e colocá-lo num suporte. Na imaginação, esse corpo textual é um colóide quimérico que pode assumir infinitas formas sem perder sua potência incisiva num suposto leitor. Mas no suporte essa liberdade privada desaparece, dando lugar às limitações do mundo material. Nele, o compartilhamento entre as pessoas de formas textuais definíveis, adequadas aos meios atuais, garante a possibilidade de comunicação. Por isso, é interessante para o/a criador/a textual respeitar as formas e gerar escritos que possuam os atributos formais correspondentes. É poder ser acessado por diversos/as leitores/as, não só aqueles que partilham de suas ligações estéticas.
Por outro lado, essas formas compartilhadas não são dadas naturalmente, como se uma objetividade última nos dissesse: é assim que as coisas são e devem ser. Há um processo pelo qual se engendram formas aceitáveis e se excluem outras. E a suspeita de que novas formas pudessem surgir residia na minha convicção de que a natureza da escrita não poderia ser tão auto-limitante. Eis que hoje eu sou convicto para afirmar: aquilo que limita e define as formas textuais não é amigo da potencialidade artística e, mais do que isto, se apoia em convenções secretamente arbitrárias, apegadas ao passado antiquado do mundo textual (ocidental). Essa crítica à forma, que hoje eu faço com maior embasamento, pesa muito. E a balança da escrita continua instável, sem render-se a nenhum dos polos.
Uma escrita que ignore ou desconheça completamente a razão das formas textuais convencionais, tende ao isolamento e à privatização. Eu, com minha rebeldia imatura, fiz dos meus textos reféns, condenados ao ensimesmamento. Claro que foi importante experimentar, brincar de palavras, construir um laboratório textual, mas isso raramente produziu pontes com o mundo. Pese-se o fato de que esse isolamento não foi fruto de simples rebeldia; como disse, também era uma honesta incapacidade de entender as normas e formas. Assim, a dificuldade de adestrar a fruição de minha escrita se deve tanto à sua ferocidade plena de justiça, quanto à minha incapacidade técnica. Eu sabia – e sei – que sem uma insubmissão às regras formais não seria possível revelar a arbitrariedade estética que as governa por trás; que muito do que é considerado belo é apenas correto, e vice-versa. Mas é preciso desconstruir o sistema por dentro, infiltrando-se, jogando seu jogo, camuflando a rebeldia com a perspicácia de uma técnica textual que respeita formas. Pois as formas textuais são critérios de visibilidade e legibilidade. Sem elas, o texto, mesmo escrito com sangue e sabedoria, pode tornar-se invisível.
O híbrido é, portanto, uma maneira de balancear, sem equilibrar, esse aparente antagonismo entre a convenção e a invenção. De forma alguma meus textos devém híbridos por uma decisão consciente, baseada em um raciocínio como o que eu consegui destrinchar aqui, neste texto. O hibridismo foi efeito de uma tensão afetiva, emocional e política. Eu ainda sinto a necessidade de desestabilizar os tácitos acordos estéticos que são revestidos de “maneiras certas de escrever”. Mas com o tempo eu fui entendendo que saber usar palavras da moda, respeitar as convenções semânticas e gramaticais, despojar-se de sintaxes experimentais e, principalmente, escrever dentro dos moldes das formas textuais, é uma atividade trabalhosa e nobre, admirável até. Mais do que isto, o estudo que permite sustentar essa atividade também pode alimentar o/a escritor/a com um conhecimento valioso. Pois sem conhecer as espécies aceitas de texto, não seria possível escrever no cruzamento delas. O texto híbrido, habitante da zona limítrofe entre as formas textuais, instiga o/a leitor/a ao estranho e ao mesmo tempo o/a acolhe dentro do familiar. Sem se alienar nem se alinhar ao formal, os escritos híbridos expressam uma tentativa textual de manter a diferença viva, selvagem, mas socializável.
É assim que eu consigo entender grande parte do meu processo de criação textual. Hoje, particularmente, estou me empenhando em trazer meus escritos para formas mais bem definidas. Dar maior tempo e espaço para a etapa da projeção, qualificá-la com planejamento, para que os textos devenham estruturalmente limpos e elegantes. Principalmente, para o que o tamanho do texto, esse atributo dificílimo de controlar, se adeque melhor às situações. Que esse tamanho se equilibre com o combustível da fruição, para nutrir o fôlego do/a leitor/a, tornando o texto interessante o bastante para ser lido até o fim, sem perder as ideias principais. Bom, é o que eu estou tentando fazer ultimamente. Espero que escritore/as possam identificar-se com alguma parte do meu processo. Adoraria escutá-los à esse respeito. No mais, que possamos desafiar o público leitor em direção às bordas do esperado, adentrando juntes nas margens das formas para experimentar coletivamente o fascínio do desconhecido. Oxalá a gente possa participar de uma transformação da norma estética, quem sabe até desestabilizar a beleza.